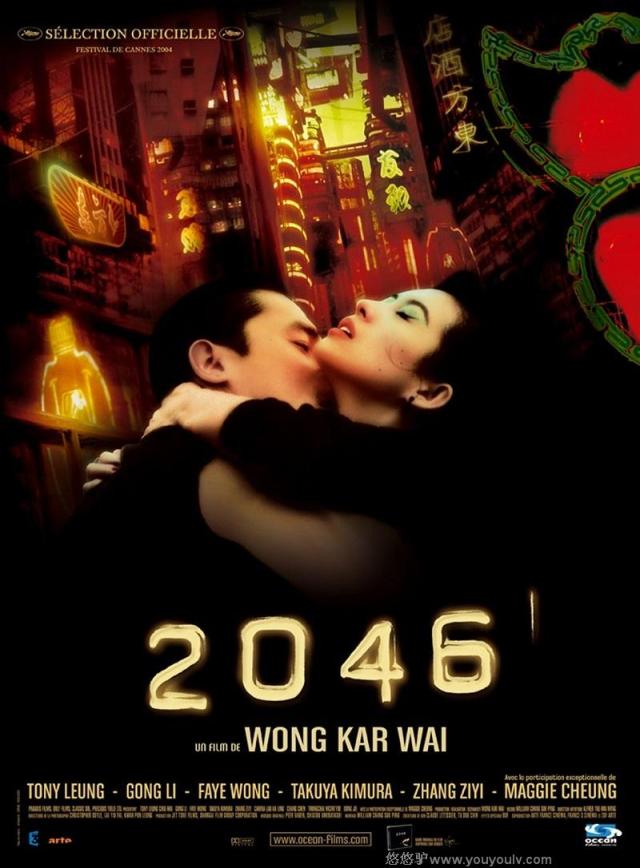A vida no espaço é impossível.
A frase, exibida logo no inicio de Gravidade, parece fazer alusão a um significado maior que a impossibilidade da livre permanência humana no vácuo espacial. É justamente sobre essa premissa que Cuáron estabelece sua narrativa. O diretor parece tentar construir uma metáfora visual sobre a impossibilidade de uma existência sem propósito (explicando a piada: sem um centro gravitacional) e na necessidade que todo ser humano tem de encontrar um sentido para prosseguir.
Ainda não consegui decidir se essa ideia, sozinha, sustenta o filme para mim. No entanto, digo sem medo: nem mesmo essa aparente fragilidade conceitual consegue diminuir a experiência de vê-lo. E na maior tela possível (melhor uso do 3D, sem exagero nenhum).
Gravidade é um projeto científico. Um desses filmes tão meticulosos e bem realizados tecnicamente que dispensam qualquer observação alheia. Não vou nem entrar na polêmica retardada da plausibilidade dos eventos do filme, nem muito menos na precisão astrofísica da coisa. Estou falando sobre um produto de entretenimento e não sobre um artigo da Nature.
Cuáron nos convence rapidamente do terror da imensidão do espaço e em quão potencialmente mortal é a situação na qual as personagens se encontram. E sempre faz isso da forma mais inventiva possível. As câmeras flutuantes, os POV’s, os longos planos-sequência (marca registrada do diretor), tudo isso salienta a sensação de desorientação e falta de peso inerentes ao ambiente de gravidade zero.
A polaridade criada por ele entre a vastidão do universo e o ambiente claustrofóbico das cabines das estações espaciais e dos módulos de sobrevivência é outro ponto forte. O diretor é hábil mesmo quando seus personagens se encontram sob abrigo, onde dezenas de objetos substancialmente perigosos flutuam à deriva pelos compartimentos estreitos do local, criando uma sensação de asfixia lenta que eu não tinha desde o já distante Abismo do Medo.
No entanto, ao meu ver, o que faz do filme de Cuáron um grande filme e não uma obra-prima é o tratamento psicológico dos protagonistas. Como bem apontou Richard Brody, em crítica para a New Yorker, as personagens são absolutamente críveis, mas sem peculiaridade alguma. As decisões tomadas ao longo do filme nunca ressoam dramaticamente. Não quero revelar aspectos do filme, mas tudo pareceu um pouco esquemático pra mim.
Os diálogos, outro ponto fraco da produção, são explicativos demais e nunca contam mais sobre os protagonistas, tampouco fazem com que nos importemos mais com a sobrevivência deles. E mesmo quando um dos personagens toma uma decisão que muda completamente o rumo dos acontecimentos, tudo soa apenas como o mais lógico a se fazer. Não sentimos nada, apenas contemplamos.
Gravidade é uma grande metáfora visual, mas sinto que faltou um pouco de estofo intelectual e melhor aprofundamento dos personagens para equilibrar e compatibilizar com a complexidade técnica utilizada para contar a estória. Trata-se, sem dúvida, de um grande trabalho de direção. Uma experiência contemplativa definitiva, com níveis de tensão que fariam uma estátua de mármore suar a camisa. No entanto, ao meu ver, quando chafurdamos no terreno do conceitual, o filme se agarra a um fiapo de ideia e é quase tão estéril quanto o vácuo no qual os personagens são obrigados a tentar sobreviver.